Silmara Silva [ONIJÁ]
Immaculée nasceu e cresceu numa aldeia em Kibuye,
província de Ruanda Ocidental. Ao longo de sua infância, destacam-se a bela
natureza do lugar em que vivia e a felicidade de um lar em que o amor mostrava-se
evidente. Seus pais, ambos professores, esforçavam-se para garantir uma boa
educação aos quatro filhos, dos quais Immaculée era a única menina.
Até os 10 anos de idade, esta garota de família tútsi
nunca fora questionada sobre qual era a sua etnia. Seus pais não falavam desses
conflitos em casa, e na escola para crianças pequenas também não se abordava
essa questão. Mas quando muda de escola, Immaculée se depara com uma chamada
feita pelo professor baseada na divisão étnica. Ele já havia pedido que se
levantassem os hútus (que compunham a maioria da população nacional com mais de
80%), os tútsis e os twas (que representavam apenas 1% da população). Mas Immaculée permanecia imóvel: não sabia
a qual etnia pertencia. Expulsa da sala, devendo voltar somente quando soubesse
a resposta, ela então passa a vivenciar em seu cotidiano uma divisão construída
historicamente, difícil de ser compreendida até mesmo pelos adultos, imagine
por uma criança, ainda isenta de toda maldade.
Já
na primeira parte do livro, Immaculée aborda a dificuldade de diferenciar hútus
e tútsis:
“Diziam
que os tútsis eram mais altos, de pele mais clara e narizes mais afilados. Mas
isso não era verdade, já que tútsis e hútus casaram-se entre si durante
séculos, portanto nossas cadeias de genes se haviam misturado. Hútus e tútsis
falavam o mesmo idioma – kinyarwanda – e tinham uma história comum. Nossas
culturas eram praticamente iguais: cantávamos as mesmas canções, cultivávamos a
mesma terra, frequentávamos as mesmas igrejas e cultuávamos o mesmo Deus.
Vivíamos nas mesmas aldeias, nas mesmas ruas e, ocasionalmente, nas mesmas
casas”.
Mas
a divisão étnica estava posta no plano político – e isso traria consequências
profundas. Como parte da política do governo hútu que pretendia excluir os tútsis
nos mais diversos âmbitos da sociedade, Immaculée não consegue uma bolsa para
os estudos secundários mesmo apresentando notas muito acima da média. Mas isso
era apenas o começo das mudanças em sua vida, até então tão harmoniosa. Anos
depois, quando já cursava a universidade, ela esteve imersa num conflito que
acabou com a vida de quase toda a sua família e de mais de um milhão de pessoas
em cerca de cem dias: o massacre de Ruanda, de 1994.
Sobrevivi para
contar: O poder da fé me salvou de um massacre é o relato pessoal de
Immaculée Ilibagiza que aos 22 anos de idade passou mais de 90 dias escondida
num pequeno banheiro com mais sete mulheres e meninas tútsis. O genocídio
promovido pelo governo hútu alcançou proporções tão amplas que Immaculée
escutava seus antigos vizinhos e amigos hútus procurando por ela a fim de matar
mais uma “barata”, como eram chamados os tútsis – inclusive nos programas de
rádio que ao longo de todo o massacre incitava a população hútu a matar todos
os tútsis que fossem encontrados, incluindo crianças e bebês. O desafio era
explícito: acabar com os tútsis, de modo que não sobrasse nenhum em todo o
país.
Apesar
de ser um relato pessoal e a própria autora advertir que o livro não se trata
de uma obra para contar a história de Ruanda e do genocídio, ela traz aspectos
importantes que ajudam a compreender a dimensão histórica de um conflito
apresentado muitas vezes como retrato da “selvageria” dos povos africanos, como
costuma fazer a mídia ocidental. Ela traz algumas informações valiosas:
“(...)
os colonizadores alemães, e depois os belgas que os substituíram, tinham
convertido a estrutura social então reinante em Ruanda (...) em um sistema discriminatório
de classes, tendo por base a raça dos indivíduos. Os belgas apoiavam a
aristocrática minoria tútsi e os colocaram à testa do governo; assim sendo, os
tútsis recebiam uma educação superior para melhor dirigir o país e gerar
maiores lucros para seus senhores belgas. Estes instituíram uma carteira de
identidade étnica para distinguir mais facilmente quem pertencia a qual tribo
(...). Quando os tútsis reivindicaram mais independência, os belgas se voltaram
contra eles e, em 1959, encorajaram uma sangrenta revolta dos hútus (...)”
Immaculée também nos chama a atenção para o fato de o
mundo ter fechado os olhos frente a um dos genocídios mais terríveis da
história:
“A
ONU havia retirado sua força de paz assim que começou o massacre. (...) Os
belgas, nossos antigos colonizadores, haviam sido os primeiros a remover suas
tropas; quanto aos Estados Unidos, nem ao menos reconheciam que havia um
genocídio em curso!”
Mas como já mencionei acima, o livro é um relato pessoal.
Difícil de descrever. Ao longo dos mais de 90 dias escondendo-se dos hútus,
Immaculée fortaleceu sua fé de modo surpreendente. Sem poder falar, tomar
banho, alimentando-se raramente, com os movimentos extremamente reduzidos
devido ao espaço minúsculo em que se encontrava, ela acreditou que seria
possível sobreviver. Suas orações chegavam a durar 12 horas seguidas, sem
interrupção. Ao sair do esconderijo junto às outras tútsis, ela encontrava-se
com 29 quilos apenas. Fraca fisicamente, demonstrou uma força inigualável até
estar de fato livre da ameaça de morrer e tornar-se mais um corpo entre tantos
que foi obrigada a ver nas inúmeras pilhas espalhadas pelas ruas.
Uma leitura que, apesar de muito triste, nos agrega
valores humanos constantemente esquecidos. Immaculée venceu o ódio não somente
porque sobreviveu a um genocídio, mas também porque soube depois de toda essa
experiência acreditar na humanidade ao invés de multiplicar o ódio que matou as
pessoas que ela mais amava.
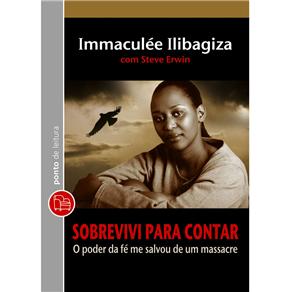

Nenhum comentário:
Postar um comentário